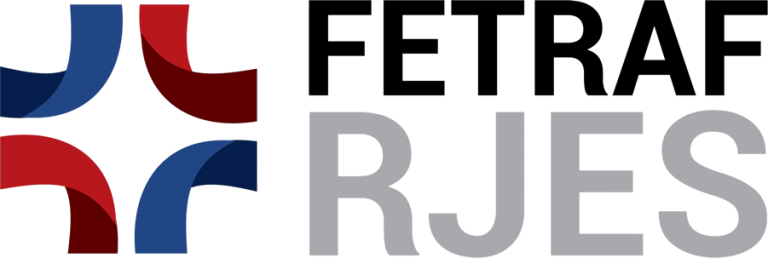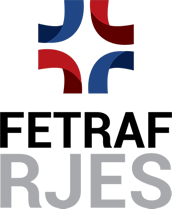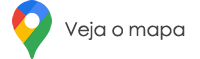Fui assistir à “Marcha dos Pingüins”, de Luc Jacquet, em companhia de crianças pequenas. Um compromisso foi necessário: eu me contentei com a versão dublada e as crianças toparam a sessão das dez. Antevia um desastre: elas dormiriam direto e eu não agüentaria a pieguice.As previsões estavam erradas. As crianças ficaram acordadíssimas e saíram do cinema pensativas, sem pedir nenhum pingüim de pelúcia. Isso porque o filme, justamente, não é nada piegas. Ele é um grande drama.A vida amorosa e reprodutiva dos pingüins cumpre uma lei férrea e cruel, ano após ano: percursos intermináveis, fome, meses de imobilidade gelada chocando um único ovo e por aí vai.Nenhuma semelhança conosco: eles sobreviveram obedecendo a uma necessidade absoluta e impiedosa, enquanto a gente sobreviveu graças à variedade plástica de nossa escolhas amorosas e de nossos comportamentos sexuais e reprodutivos.Pensei nos pingüins que aparecem misteriosamente em nossas praias. O Ibama faz um esforço danado para devolvê-los a seu habitat natural; são levados de volta, de avião, até à Antártida ou à Patagônia. Mas será que alguém lhes pergunta o que eles querem? Há uma séria possibilidade que eles estejam pedindo asilo político na zona sul carioca. Depois de ter visto o filme de Jacquet, eu não hesitaria a lhes reconhecer esse direito.Apesar da distância entre nossa vida amorosa e a dos pingüins, nos EUA, alguns grupos conservadores propuseram a conduta dos pingüins como protótipo de monogamia e de dedicação à família. Algo assim: “Você se queixa porque os filhos e a família dão trabalho? Você quer mais prazer na sua vida? Você quer abortar? Olhe para os pingüins e arrepende-se”. Fato surpreendente, o argumento funciona. Também graças à dramatização que dá voz às “personagens” da história, podemos simpatizar com os pingüins a ponto de considerá-los como semelhantes que, no caso, seriam mais morais que a gente.Na história da cultura, aconteceu com freqüência que alguém apontasse nos animais qualidades exemplares para nós.O filósofo David Hume, num apêndice de sua “Investigação Sobre os Princípios da Moral” (1751), ao querer mostrar que nossos sentimentos morais são, de uma certa forma, “naturais”, invoca como exemplo a “benevolência” dos animais (de fato, os animais “benevolentes” existem mais nas fábulas do que na realidade, mas não é isso que importa). O que Hume chama “benevolência” é a capacidade de sentir simpatia pelos semelhantes. Para quase todos os filósofos britânicos do século 17 e 18, essa capacidade é o fundamento da moralidade: afinal, se soubermos nos colocar no lugar dos outros, nosso comportamento terá uma boa chance de ser moralmente aceitável.Naquela época, ingleses e escoceses debateram como nunca sobre a origem dos sentimentos morais. Havia quem pensasse que eles fossem aprendidos, derivados da experiência (John Locke); havia os que pensavam que fossem colocados por Deus no nosso âmago desde o nascimento (Shaftesbury) e havia os que, como Hume e Adam Smith, ficavam sabiamente em cima do muro. Para todos, o núcleo da moral era a capacidade de simpatizar com o outro e, portanto, de querer seu bem. A questão discutida era: “De onde vem essa simpatia que nos torna morais?”.A psicologia pode contribuir (tardiamente) a esse debate.Existe um transtorno grave, chamado transitivismo, no qual o sujeito perde a noção de seus limites e de sua individualidade e se confunde com os outros ou mesmo com objetos inanimados ao seu redor. O transitivismo, na medida certa, é também uma disposição crucial na constituição da subjetividade normal.Por exemplo, mães e pais conhecem um estranho fenômeno que acontece nos primeiros anos de vida de qualquer criança: na brincadeira, eis que um amiguinho se machuca e a criança que assiste à cena começa a chorar como se a vítima fosse ela. Os adultos perguntam por quê e a criança aponta, em seu corpo, o lugar em que o outro se feriu.Não se trata de uma compaixão generosa que seria congênita nas crianças. Acontece que o sujeito humano se constrói à força de identificações com os outros. Nos primeiros anos de vida, a capacidade de me colocar no lugar do semelhante me ajuda a responder à pergunta “Quem eu poderia vir a ser?”. Mais tarde, a experiência dos outros continua nos enriquecendo tanto quanto a nossa, pois levamos conosco, dentro de nós, os semelhantes que encontramos ao longo da vida.Talvez seja esse transitivismo, básico e normal, que esteja na origem da simpatia que funda nossa moralidade. Ele nos é tão necessário que não paramos de estender o campo dos semelhantes com os quais possamos nos identificar. Inventamos e cultivamos ficções para viver a experiência não só dos outros reais, mas também de um exército de personagens imaginárias. Na mesma linha, descobrimos a fidelidade nos cachorros, a laboriosidade nas formigas, a tranqüilidade nas montanhas e, depois do filme de Jacquet, a abnegação nos pingüins. (Por Contardo Calligaris , no jornal Folha de SP – em 19/Jan)
Fonte: