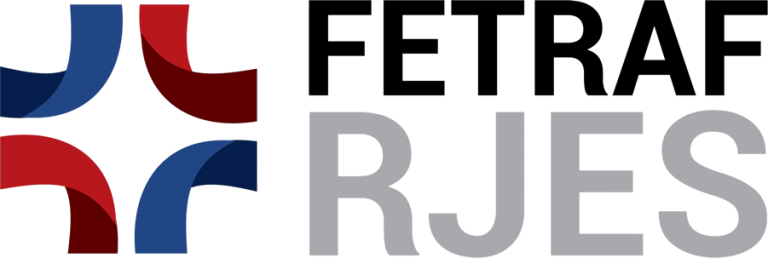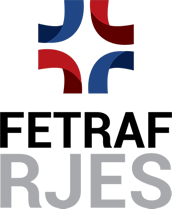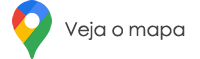Angela de Castro Gomes *
Os anos 1930-40, dominados pelo que se chama primeiro governo Vargas, são verdadeiramente estratégicos no que diz respeito ao encaminhamento da questão social no Brasil, especialmente se considerarmos os rumos da questão do trabalho. Nesse período, praticamente se elaborou toda a legislação que regulamentou o mercado de trabalho, bem como se estruturou uma ideologia política de valorização do trabalhador nacional, ao qual se atribuiu responsabilidade e papel centrais nos rumos do desenvolvimento do país. A dinâmica entre os dois processos reforçou-os mutuamente, potencializando seus resultados naquele momento histórico e também na memória política nacional. Grosso modo, a legislação trabalhista integra o leque de políticas sociais da Era Vargas, o que engloba um amplo conjunto de iniciativas, todas consagrando a intervenção estatal em áreas, até então, consideradas fora de sua esfera de poder legítimo.
Contudo, quando a Revolução de 1930 rompe com a ordem constitucional de 1891, muitos debates já estavam em curso, registrando a necessidade da presença do Estado em áreas fundamentais para a economia e para a sociedade brasileira, dentre as quais o mercado de trabalho tinha destaque. Na verdade, durante a Primeira República (1889 – 1930), várias associações de trabalhadores urbanos, de muitas das principais cidades do país, mobilizaram-se para demandar medidas que garantissem melhores condições de trabalho e de remuneração, independentemente de suas orientações políticas serem socialistas, comunistas e mesmo anarquistas. Quer dizer, antes de 1930, já existia no Brasil uma bem estabelecida tradição de associações de classe (de trabalhadores e de patrões), que experimentaram lutas e enfrentamentos diversos. Essa tradição pode ser considerada de tipo corporativo, se por isso entendermos um associativismo fundado em interesses profissionais, que agrega indivíduos em torno de demandas e valores, constituindo identidades coletivas. Tal associativismo é corporativo no sentido clássico de formação de “corporações”, organizadas voluntariamente e de caráter privado. Portanto, sem a presença do ator Estado, que caracteriza o modelo de corporativismo que se conforma, circula e pratica, no pós-30, internacionalmente.
Dessa forma, no Brasil da Primeira República, dois entre os principais atores da moderna ordem institucional – empresários e trabalhadores –, constituíram suas identidades sociais por meio de formas associativas de participação política, “fora” de um sistema de representação político-partidária, devido às características que esse sistema assumiu no período. Do mesmo modo, no Parlamento, nesse período, houve iniciativas para a aprovação de leis, algumas bem sucedidas (como a de acidentes de trabalho), e outras que não tiveram curso (como a proposta de um Código do Trabalho). Além disso, a reforma constitucional de 1926 já havia apontado a tendência rumo à governabilidade do Estado sobre a sociedade, reforçando o diagnóstico que estabelecia que, em países chamados de atrasados, como o Brasil, e diante de problemas – como os da educação, da saúde e do mercado de trabalho –, a intervenção estatal era fundamental. Assim, não é casual que, no ano de 1930, na plataforma do candidato de oposição à presidência da República, Getúlio Vargas, a questão social fosse um ponto de destaque, por seu caráter inovador e polêmico.
É esse contexto que explica a rapidez com que, logo após a ascensão de Vargas ao poder, em outubro de 1930, são criados dois novos ministérios, ambos nomeados como “os ministérios da Revolução”: o da Educação e Saúde, e o do Trabalho, Indústria e Comércio. Em ambos os casos, o que fica evidenciado é a nova presença do Estado como um ator central no encaminhamento dos problemas afetos a essas pastas, o que se expressava pela montagem de uma burocracia que se encarregaria de formular, implementar e fiscalizar as políticas públicas dessas áreas.
Tais observações são importantes porque permitem refletir melhor sobre as razões que fizeram com que o Estado do pós-1930 construísse um discurso onde afirmava, enfaticamente, ser aquele o momento original – uma espécie de ponto zero – de introdução de formas de organização de interesses no Brasil, particularmente no que se refere aos trabalhadores. Ou seja, um discurso que induzia à crença na inexistência de quaisquer formas associativas anteriores a 1930, o que permitia ao Estado, não apenas assumir o papel de patrocinador dessa nova experiência, como igualmente de definir o que devia se entender por sindicalismo e corporativismo. Por conseguinte, o obscurecimento do que havia se passado no pré-30, permitia uma conceituação do que era o “corporativismo brasileiro”, em disjunção às vivências anteriores de organização do patronato e da classe trabalhadora, e em sintonia com uma proposta de Estado intervencionista e autoritário, que vinha sendo amadurecida desde a década de 1920.
Entretanto, é fundamental remarcar que, sobretudo devido às resistências encontradas entre os proprietários rurais, esse amplo conjunto de medidas legislativas não incluía os trabalhadores do campo, que foram, até a década de 1960, a maioria no Brasil. Mesmo assim, tais iniciativas, implementadas durante o governo Vargas e basicamente antes do Estado Novo (1937-45), significaram tanto um aumento do número de beneficiados alcançados, como um aumento do número de benefícios existentes. Portanto, esse aparato, mesmo não atingindo diretamente o trabalhador rural, teve enorme importância para a população trabalhadora do país em geral, especialmente porque todas essas medidas governamentais eram amplamente divulgadas pelos mais modernos meios de comunicação da época, sendo objeto de uma maciça e bem cuidada propaganda. E, como várias pesquisas têm demonstrado, mesmo estando restrita aos trabalhadores urbanos, essa legislação foi conhecida e desejada pelos trabalhadores rurais, que ainda nos anos 1940 e 1950 se mobilizaram e pressionaram para que houvesse a extensão de seus benefícios ao campo.
Também é necessário assinalar que, o efetivo avanço dos direitos sociais de cidadania, realizado através da política trabalhista, não esteve associado a avanços no campo dos direitos políticos e civis, que foram ou suprimidos ou ignorados de forma clara, tanto antes como durante o Estado Novo. Portanto, mesmo existindo ganhos no âmbito dos direitos do trabalho, não houve avanço da democracia no país. Isto é, o processo de inclusão social que se desencadeou na década de 1930, tendo ocorrido em grande parte no contexto de um regime autoritário, produziu uma separação entre direitos sociais e democratização política. Além disso, é preciso pensar a questão da inclusão/exclusão como uma situação que raramente se apresenta de forma radical. Ou seja, raramente alguém está inteiramente incluído ou excluído de uma pauta de direitos. Há sempre múltiplas possibilidades de se estar ou não incluído ou excluído, dependendo do tipo de direitos de cidadania que está sendo considerado.
No caso deste texto, a atenção se volta para os direitos de cidadania que regulam e protegem o mundo do trabalho. O momento é aquele em que a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, faz 70 anos. Respeitável senhora, viveu muito e já passou por bons e maus momentos. Continua, até em função da idade, sendo alvo de ataques (como a de ser anacrônica), defesas (como a de preservar o legislado sobre o negociado) e, no que nos interessa, de reflexões.
***
Dada à abrangência dos temas que a CLT abarca, decidiu-se examinar, partindo das políticas trabalhistas da Era Vargas, apenas a questão da regulamentação da legislação sindical que se estabeleceu após a Revolução de 1930. Um tema que só pode ser tratado, considerando-se a proposta de organização corporativa como uma nova forma de organização dos Estados Nacionais, naquele período. Sindicalismo e corporativismo estavam indissoluvelmente ligados, o que precisa ficar muito claro. Nas décadas de 1930/40, a conformação e efetivação de uma “teoria da organização sindical” – definida como uma “teoria de organização do povo brasileiro” – estava associada a uma “teoria de Estado corporativo”, que devia ser autoritário, intervencionista e centralizado no Poder Executivo. Não era possível, portanto, nessa perspectiva, separar o modelo de organização de “classes” – quer dos trabalhadores, quer do patronato –, do modelo de organização do próprio Estado, ambos seguindo as então modernas diretrizes corporativistas.
Nesse novo modelo corporativo era essencial organizar as profissões com base no sindicato único em uma determinada base territorial, sendo que esse sindicato deveria estar sujeito ao controle do Estado, exercendo sua função por delegação da autoridade pública, como um legítimo órgão de colaboração. Só dessa maneira, tornava-se uma pessoa de direto público com poderes de representação que iam além de seu corpo de associados, podendo abarcar toda a categoria profissional, o que se considerava fundamental para fins de negociação coletiva. Entendia-se, assim, que só com a unicidade sindical seria possível um tipo de organização que obtivesse o reconhecimento do Estado (e da sociedade), e o poder de representar para além de seu corpo de associados.
Não são fortuitas as dificuldades do pensamento social brasileiro com a permanência de várias características desse modelo corporativo de nossa estrutura sindical. Ele, muitas vezes, é visto como um paradoxo, a desafiar políticos, empresários e trabalhadores ou, mais fortemente ainda, sucessivas levas de lideranças sindicais (de empregados e empregadores), que se querem ver livres de uma “herança maldita”, mas que, com freqüência, retornam a seu leito, mais ou menos envergonhadas ou mais ou menos prontas a esclarecer as razões (sempre passageiras) de sua atitude.
Para começar, pode ser útil recordar que, no Brasil, construímos, ao longo de décadas, por artes de intelectuais e «políticos profissionais», um resistente imaginário que desconfia dos agentes, das práticas e das instituições políticas características da democracia representativa, acusando-os tanto de escusos como de ineficazes para seu real objetivo, isto é, para a defesa dos interesses dos representados. Sem entrar nos fundamentos que explicariam a geração e duração de tal imaginário, o que desejo ressaltar é que essa «pouca fé» na dinâmica representativa da política parlamentar, nunca chegou a significar a rejeição in totum da idéia de representação, mas sim a busca de um tipo de representação alternativa que pudesse se mostrar mais eficaz.
Ao longo da história política republicana, portanto, não foi casual que, nos momentos em que a crítica aos mecanismos eleitorais e às experiências parlamentares foi mais dura, aumentassem os esforços para se criar e implementar práticas representativas de outra natureza. Foi assim nos anos 1930 e 1940, quando ganharam força, visibilidade e reconhecimento, uma representação de tipo corporativo, experimentada através das bancadas de deputados classistas (em nível federal e estadual) e também através da organização de um modelo de sindicalismo, que se articulava a um modelo de Estado, ambos corporativos, a partir de 1937. Nos dois exemplos, a lógica da representação era a dos «interesses profissionais» e não a das «idéias políticas», o que tornaria o representante – por premissa – «verdadeiro», porque mais próximo e conhecedor do universo que lhe cabia representar: o mundo do trabalho de uma «categoria profissional», devidamente delimitada e reconhecida pelo poder público.
Para se compreender essa experiência, é preciso acrescentar que, naquele momento histórico, o corporativismo era entendido, internacionalmente, como uma alternativa tanto à liberal-democracia como ao socialismo. Logo, como uma terceira opção de arquitetura política para os Estados modernos. Além disso, o corporativismo se afirmava como a melhor opção (senão a única) para os países que, como o Brasil, viviam em situação de extrema desigualdade no mercado internacional de trocas. O rompimento com os dogmas da igualdade liberal, que se estendia a um mercado de trocas perfeito, evidenciava as falácias do equilíbrio da competição econômica internacional, autorizando a intervenção estatal, especialmente através da organização corporativa dos agentes econômicos, sob uma direção política nacional forte e centralizada no Executivo. Mas se a experiência da representação corporativa no Parlamento foi breve entre nós, suscitando, até hoje, pouco interesse da academia, o inverso ocorreu com a experiência de organização sindical, que se tornou questão central para estudiosos de várias disciplinas, para políticos, para sindicalistas (os dois, por vezes, reunidos na mesma pessoa física) e para amplos setores da sociedade.
***
A trajetória da organização sindical corporativa no Brasil tornou-se objeto de vasta literatura, desde os anos 1940. Ela é numerosa e diversificada, abarcando textos memorialísticos, entrevistas, artigos e livros acadêmicos ou não. Neste texto não se poderia, evidentemente, lidar com tão amplo conjunto de contribuições. O que se pretende, correndo enormes riscos, é fixar alguns pontos que podem ser estimulantes para pensar a experiência brasileira de sindicalismo e de corporativismo, de tão longa duração.
O primeiro ponto, diz respeito à permanência da representação sindical corporativa após a queda do Estado Novo e da elaboração da Constituição de 1946. Tal fato produziu um estranhamento, compartilhado por grande parte da literatura e por um bom tempo. De forma geral, explicava-se tal permanência, como sendo um fenômeno, entre outros, derivado da «sobrevivência» do autoritarismo getulista; de sua liderança carismática e paternalista, capaz de “manipular” os trabalhadores, mesmo considerando-se o passar de tanto tempo. Em síntese, um sinal de “falta de modernidade política do país”, que teria, inclusive, colaborado para a degeneração da experiência liberal-democrática do período 1945-1964. Não é de estranhar que, nessa interpretação, tal período seja inteiramente esvaziado de qualquer positividade no campo da política formal. A representação sindical-corporativa, nesse contexto de análise, associou-se de forma sólida aos diagnósticos de clientelismo e do chamado populismo, que se formularam para explicar a dinâmica de nossa vida política, condenada ao «atraso», por força de interesses privados/pessoais, fossem eles de políticos, empresários ou mesmo trabalhadores. Talvez, com base nessas formulações – que se iniciam nos anos 1950, e perduram fortemente, pelo menos, até os anos 1970 –, tenha-se criado a fórmula antológica, de largo senso comum, que entende que: «corporativismo é a organização de interesses dos outros».
Muitas águas tiveram que rolar para que a questão do sindicalismo e do corporativismo no Brasil passasse a ser reexaminada, não mais como um paradoxo ou uma “mera sobrevivência”, incômoda, mas que acabaria quando alcançássemos a democracia política. Tal transformação analítica vinculou-se, como costuma acontecer, às vivências e exemplos nacionais e internacionais. De muitas formas diferentes foi ficando evidente que arranjos de tipo corporativo – obviamente modificados em vários aspectos – podiam conviver com fórmulas representativas da liberal-democracia, inclusive por necessidades de um capitalismo moderno, que precisava exercitar a negociação de interesses para minimizar custos sociais de natureza econômica e política. Custos advindos de uma crescente interdependência econômica e incerteza política, que precisavam ser gerenciados pelo Estado – um ator central dos arranjos corporativos –, a partir de um sistema de negociação que envolvia participação e controle, com ênfases variadas, dependendo do regime político em que ocorriam e da força dos atores coletivos organizados no processo de negociação. Sobretudo, aprendeu-se que negociação não é o mesmo que cooptação e que, mesmo quando esta ocorre, atesta a existência de interesses das várias partes envolvidas, ainda que com poderes muito desiguais.
Este novo entendimento da questão do sindicalismo e do corporativismo, que lhe dá outra estatura teórica e empírica, alargou-se nos meios acadêmicos brasileiros pari passu a dois outros acontecimentos importantes. De um lado, observou-se o nascimento de uma experiência sindical, no interior do próprio modelo corporativo, que definia sua identidade justamente pela negação de um passado, grosso modo, nomeado como corporativo e definido como um mal a ser combatido e vencido. De outro, ocorreu o desenvolvimento de diversos estudos, que tinham esse «novo sindicalismo» como seu objeto de análise e que reforçavam, ao menos inicialmente, essa marca contrastiva original. Porém, acompanhando a trajetória de lutas desse sindicalismo dos anos 1980, rapidamente os pesquisadores situam seu impasse: manter ou abandonar as práticas sindicalistas e corporativistas por ele condenadas em teoria, mas sustentadas, com várias justificativas, na prática?
Esse período de experiência sindical no Brasil foi extremamente rico de vivências políticas quanto à questão da representação e da participação política dos trabalhadores, inclusive no que se refere aos usos da representação corporativa. Ele também foi muito frutífero academicamente, pois deslocou o debate para outro patamar, ganhando novas perspectivas.
A Constituição de 1988 pode ser um bom evento para se periodizar as observações que se seguem. A Constituição consagrou um novo conjunto de direitos de cidadania para o Brasil. Mas, no que se refere especificamente aos direitos do trabalho, a nova Carta não tocou fundamentalmente na CLT e, no que diz respeito à legislação sindical, trabalhadores e empresários não se serviram dessa oportunidade para desmontar pontos polêmicos desse modelo sindical corporativista. Dessa forma, a Carta acabou aprovando um modelo ambíguo: eliminou a tutela estatal sobre os sindicatos, mas sustentou o princípio da unicidade sindical. Quer dizer, fez com que a inovação da liberdade de organização sindical (definida com não ingerência do poder público nos sindicatos) convivesse com a manutenção do monopólio da representação, presente em especial no direito de cobrar contribuições a todos os trabalhadores, sejam eles sindicalizados ou não. Com nova roupagem – a de contribuição sindical e acrescida de uma contribuição confederativa – a verdadeira “chave do tamanho” descoberta nos anos 1940, que fez os sindicatos crescerem, continuou alimentando fartamente os cofres das associações de base e de cúpula de trabalhadores e empresários.
Uma situação esdrúxula para os analistas dos anos 1990, sobretudo quando cotejada com uma real pluralidade de organizações de cúpula sindical (o que não era permitido), e uma não menos real impossibilidade de controle do número de sindicatos de base, por ausência de instâncias que garantissem o status monopólico a quem quer que fosse. Segundo diversas pesquisas, de orientações teóricas variadas, essa situação fortaleceu a burocracia sindical, tanto do lado dos empregadores como dos empregados, gerando uma discussão sobre o «tipo» de sindicalismo corporativo que passávamos a experimentar. Seria ele ainda do tipo estatal, conforme modelo vindo dos anos 1930, mais particularmente do Estado Novo? Ou tal modelo estaria em transição para um sindicalismo corporativo de tipo societal, no qual o poder do Estado seria pequeno?
Segundo dados recentemente divulgados pela imprensa, em função da passagem dos 70 anos da CLT, apenas entre 2005 e 2012, foram criados no Brasil 250 sindicatos por ano. Assim, em 2013 eles somariam mais de 15.000, o que é um número nada desprezível. Porém, como diversas lideranças sindicais chegam a reconhecer, muitos deles existem apenas para recolher a contribuição sindical obrigatória, não tendo qualquer capacidade de representação e negociação. Algo que pode ser dimensionado se soubermos que o valor de tais contribuições, em 2011 e segundo informações do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, alcançou R$2,4 bilhões. Entretanto, embora com o número de sindicatos crescendo, cai sistematicamente o número de trabalhadores sindicalizados. Ou seja, questões clássicas no campo de estudos do sindicalismo e do corporativismo no Brasil, que continuam a nos desafiar, nesse ano em a CLT faz 70 anos.
* Professora Titular aposentada da UFF e Pesquisadora 1 A do CNPq.
Este texto foi escrito para ser lido na Mesa Redonda do seminário “CLT 70 Anos”, realizado na UFRJ, no dia 3 de dezembro de 2013. Por essa razão, ele não tem notas de rodapé, nem bibliografia, mantendo características de oralidade próprias a seu objetivo.
Fonte: Profa. Angela de Castro Gomes