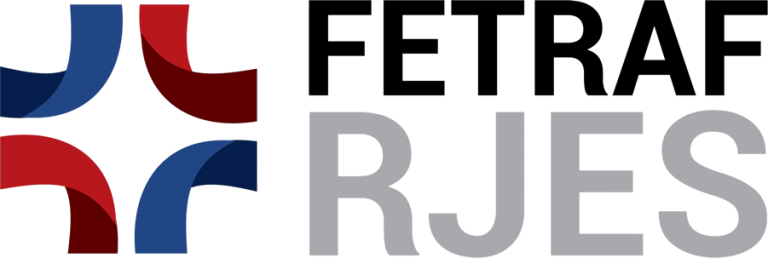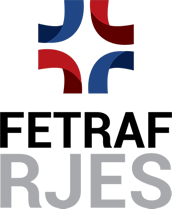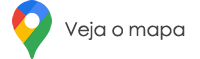Em mais uma edição do Testemunho da Verdade no Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, foram ouvidos quatro ex-presidentes que estiveram à frente da entidade a partir de 1972. O evento aconteceu na última terça-feira, dia 03, no auditório do sindicato, e foi organizado em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. Fernanda Carísio, Roberto Percinotto, Ivan Pinheiro e Ciro Garcia relataram suas passagens pelas instalações da repressão e sua experiência no sindicato.
A abertura foi feita por Rosa Cardoso, coordenadora do GT Sindical da Comissão Nacional da Verdade, Wadih Damous, presidente da CEV-Rio, Almir Aguiar, presidente do Seeb-Rio e Geraldo Cândido, ex-senador, ex-sindicalista e integrante da CEV-Rio. Rosa Cardoso ressaltou a importância do trabalho do GT Sindical para revelar o papel dos dirigentes sindicais e líderes operários e camponeses na resistência à ditadura, até há pouco considerado menor. “Muito se escreveu sobre a ditadura, mas muito pouco sobre o período de 64 a 68, quando só os sindicatos foram atacados, os dirigentes cassados, presos e mortos. As ligas camponesas também sofreram perseguição, o latifúndio não perdoou”, destacou Geraldo Cândido. Almir Aguiar lembrou Aluízio Palhano, que foi presidente do Seeb-Rio e é um dos desaparecidos políticos cuja morte nunca foi esclarecida.
Novela de eleição
Ivan Pinheiro, que presidiu o sindicato entre 1979 e 1982, começou falando que a reorganização dos trabalhadores nos anos 70 foi fundamental para o início da transição. Mas o processo de retomada dos sindicatos, muitos sob intervenção, não foi fácil. “A DRT e a Delegacia de Segurança e Informação decidiam quem podia ser candidato nas chapas para as eleições sindicais. E as eleições eram dirigidas por um representante do Ministério do Trabalho. Tinha um procurador que vinha para cá armado”, lembra o ex-sindicalista. A eleição de 1979 foi um processo demorado, com realização de três escrutínios. “Levamos mais de um ano para tomar posse. Primeiro, o representante do Ministério cometeu fraude e transgressão do nosso estatuto. Recorremos à Vara Federal e a eleição foi anulada. Na segunda vez, vários mesários ligados ao ministério invalidaram a eleição. Na terceira, finalmente conseguimos, parece que eles desistiram”, recorda Ivan.
A posse da diretoria eleita, em 1979, foi um grande ato político, com a presença de lideranças da esquerda e do sindicalismo – bancário e de várias categorias. Foram convidados, por exemplo, os então presidentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, Olívio Dutra, e o jornalista Carlos Alberto de Oliveira, o Caó, que foi eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio dois anos depois. Alguns dos militantes presentes eram recém-chegados do exílio, como foi o caso do ex-presidente da Federação dos Bancários do Rio de Janeiro e Espirito Santo, Luiz Viegas.
Eleitos, os novos diretores se puseram a fazer algumas mudanças. Uma delas foi levar a Direção Executiva de volta para a sede na Av. Presidente Vargas, já que, durante a intervenção e o período de liberdade vigiada a alta cúpula do sindicato ficava numa sala na Rua Teófilo Otoni. “Eles ficavam lá para ficarem longe da massa”, lembra Ivan Pinheiro. O ex-sindicalista lembra que, quando foram fazer a mudança e removeram as pesadas mesas de mármore das salas, encontraram, nos pés do móvel, pastas e papéis escondidos. Eram documentos produzidos pelos interventores com informações sobre os ativistas que se opunham ao regime militar.
Ivan lembra também que o então presidente do Sindicato dos Bancos do Rio de Janeiro, Teófilo de Azeredo Santos, fazia de tudo para atrapalhar o trabalho da nova direção. Ele um dia entrou no escritório, com fotógrafos, e fez uma foto apertando a minha mão. Quando teve a greve, ele usou a foto e disse que já tínhamos fechado um acordo”, relata. O representante patronal também costumava pressionar os sindicalistas, circulando pelas proximidades do sindicato acompanhado de policiais. Mas as investidas do banqueiro não deram resultado e o slogan “É bom sacar, porque os bancos vão parar” caiu na boca do povo e os bancários conseguiram fazer sua primeira greve durante a ditadura, em setembro de 1979. Porto Alegre já tinha feito greve – e teve dirigentes presos – e São Paulo parou no mesmo período que o Rio.
Solidariedade
Mas não foi só a categoria bancária que se beneficiou da postura aguerrida de seus dirigentes. “Este sindicato bancou dois casais de militantes uruguaios exilados. E também demos emprego a pessoas que estavam sendo perseguidas, aqui no sindicato. Contribuímos financeiramente com o movimento estudantil. E começamos a campanha das Diretas Já. A esquerda que começou a campanha, depois a burguesia sequestrou as causas”, conta Ivan. O ex-presidente também lembra que o sindicato fez imprimir três milhões de panfletos pelas Diretas. Pinheiro também conta uma situação que, até o dia do depoimento, era conhecida de poucas pessoas: forças da repressão atearam fogo às instalações do sindicato durante o grande comício das Diretas Já. “Viemos para cá, resolvemos a situação e ninguém no palanque soube. Não queríamos criar pânico”, lembra o ex-sindicalista.
Ivan também destaca que, em março de 1979, quando os metalúrgicos do ABC estavam numa greve geral de toda a categoria na região, uma comissão de diretores do sindicato foi a São Bernardo prestar solidariedade e também levar ajuda material e financeira. “Viajamos em oito pessoas, numa Veraneio. Na volta, fomos fechados por dois carros do DOPs e levados presos. Quando chegávamos à sede do DOPs, havia um carro do Jornal do Brasil na porta, a notícia se espalhou e só por isso não sofremos nada mais grave”, recorda. Pinheiro também conta que o sindicato organizou a solidariedade internacional à Palestina e a Cuba naquele período.
A contrapartida sempre vinha. Ivan recorda de um dia em que policiais chegaram a sua casa para fazer uma busca de documentos e, não encontrando nenhum adulto no local, telefonaram para o trabalho de sua esposa e lhe pediram que fosse até lá – sem avisar ao marido. Mas ela o informou assim mesmo, e Ivan se dirigiu à sua casa acompanhado de outros sindicalistas – inclusive de outras categorias – e de jornalistas com quem tinha contato, surpreendendo os policiais.
Canções contra tortura
Roberto Percinoto foi presidente do sindicato entre 1982 e 1985, mas sua militância sindical começou bem antes, em 1961. Depois do golpe e da primeira intervenção federal, Percinoto integrou a primeira diretoria eleita, em 1965. Na gestão seguinte, iniciada em 1968, continuou na direção até ser cassado logo após o carnaval de 1969. “Voltei para o banco e, em outubro, recebi a visita de policiais na agência e fui levado preso para o DOPs”, recorda.
Quando de sua prisão, Percinoto já foi recebido com um “telefone”, golpe simultâneo nos dois ouvidos, que provoca perda de sentido. Foi despido e mantido em um local frio por toda a noite. Seu primeiro interrogatório – com tortura – durou 36 horas. Foi transferido para o Arsenal de Marinha e, dali, para a Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, em São Gonçalo, “que de flores não tem nada”, como bem lembrou o ex-sindicalista.
Percinoto relatou as torturas que os presos sofriam na Ilha das Flores e as condições em que viviam. O presídio era dividido em duas alas: os comuns e os incomunicáveis. O relato sobre a experiência na Ilha das Flores é marcado pela emoção: o ex-sindicalista lembrou como o presídio todo cantava, diariamente, às seis horas da noite, três canções: “Apesar de Você”, de Chico Buarque, “Pra não dizer que não falei das flores”, de Geraldo Vandré, e a Canção do Expedicionário”, poema de Guilherme de Almeida musicado por Spartaco Rossi que serviu de hino dos soldados brasileiros na II Guerra Mundial. Percinoto conta que um dos ativistas presos copiava à mão as canções e as cópias eram espalhadas entre os internos do presídio. Ao cantar os primeiros versos da Canção dos Expedicionário, Percinoto interrompeu o relato por uns instantes.
O ex-presidente lembra também que a solidariedade entre os presos era grande. “A mão do Rodrigo Faria Lima, que estava preso lá, levava caixas e caixas de cigarros. Nós deixávamos escondidos, presos com um arame, atrás do vaso sanitário para o pessoal da ala dos incomunicáveis. E do sindicato também recebi solidariedade. O (diretor) José Fagundes Vieira me visitou muitas vezes enquanto estive preso”, recorda. Quando foi solto, Percinotto saiu direto de São Gonçalo para o centro do Rio, para a sede do sindicato.
Depois da experiência na prisão, voltou para o banco e ficou fora de algumas gestões, mas próximo de muitos dirigentes, que se tornaram seus amigos pessoais. Em 1982 sucedeu Ivan Pinheiro na presidência.
 Força feminina
Força feminina
Fernanda Carísio foi a primeira presidenta do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e cumpriu dois mandatos, entre 1994 e 2000. Mas seu depoimento no evento foi sobre o período que ainda não se dedicava integralmente à militância sindical. Integrante do Movimento pela Emancipação do Proletariado – MEP, Fernanda foi presa em 77, quando era jornalista da Tribuna da Imprensa e funcionária concursada do BB. “Cairam 20 pessoas do MEP no mesmo dia, foi uma terça-feira. Na quinta, caíram mais alguns. Tínhamos um esquema entre os amigos da Tribuna: quem não chegasse ao jornal até as 14h, era porque tinha caído, os outros tinham que avisar à família”, recorda. Moradora de Niterói, Fernanda foi presa assim que desembarcou do aerobarco que fazia a travessia da Baía de Guanabara. “Me jogaram num opalão e eu joguei a bolsa para fora do carro. Era uma estratégia que tínhamos, esperando que a pessoa que encontrasse a bolsa com os documentos informasse a família. Hoje em dia, o primeiro ladrão levaria a bolsa”, compara.
Depois de colocada no carro, Fernanda foi vendada e, a princípio, não sabia para onde estava sendo levada. Seus primeiros dias foram no quartel da Polícia do Exército, na rua Barão de Mesquita, na Tijuca, onde ficou dez dias incomunicável.
A prisão dos militantes do MEP teve uma peculiaridade. “Era 77, já estava começando a abertura e eles reconheceram a prisão, saiu nos jornais uma lista dos presos. Como sabíamos disso, pensamos que, pelos menos, não “desapareceriam” com a gente. Era uma garantia de que sairíamos vivos”, relata.
Vivos, mas não ilesos. Havia tortura e Fernanda foi colocada numa sala conhecida como “geladeira”, um local muito frio onde ficou por várias horas, nua e sob luz forte, obrigada a se manter de pé e com os braços abertos. “Eles queriam nomes, mas eu nem tinha o que dizer. Eu não era da direção. E eles já sabiam de tudo, sabiam meu codinome, meu endereço, foram até minha casa e apreenderam livros, anotações”, relata. Depois da “geladeira” foi para uma cela individual, com uma cama, vaso sanitário, pia e chuveiro, chamada de “conforto”, onde ela ficou sozinha por alguns dias. Apesar das condições razoáveis, Fernanda lembra que ouvia os gritos dos outros presos que estavam sendo torturados.
Quando foi retirada da cela “conforto”, foi despida e colocada na “cadeira do dentista”, onde foi torturada com choques elétricos. Durante o interrogatório, mostraram-lhe fotos de suas atividades cotidianas. “Eles vinham nos monitorando, eu nem tinha mais o que dizer”, relata. Desta sessão, Fernanda lembra da ameaça que ouviu de um torturador. “Ele disse que, se um dia nós chegássemos ao poder, eles iriam para as montanhas fazer guerrilha. A gente pensa que não era ideológico, mas era, sim”, lembra. Neste momento, Fernanda relacionou a frase que ouviu às manifestações reacionárias que tem ocorrido nos últimos meses e aos depoimentos de alguns ex-torturadores à Comissão da Verdade. “Eles não têm remorso. A lógica da luta da direita ainda está aí. Eles não desistiram”, avalia.
Depois desta sessão, Fernanda e outro preso, Fred Falcão – que se tornou seu companheiro e é pai de seu único filho – foram levados para o DOPs. No temido centro de tortura, uma nota risível. “Quando chegamos, o carcereiro da noite ficou sem saber o que fazer, porque o do dia não informou da nossa ida. Ele disse que não sabia o que fazer, porque não tinha roupa de cama para a gente”, conta.
Quando foi solta, Fernanda voltou para o banco onde foi bem recebida pelos colegas e superiores. “Eles perguntaram se eu queria ficar no mesmo lugar ou se queria ser transferida. O banco foi muito correto. A única coisa ruim foi que descontaram do salário o período que fiquei presa”, lembra. “Se a gente pensar, hoje é muito pior, o banco demite só por participar da greve”, compara.
O que os órgãos repressores não esperavam era que militantes como Fernanda voltassem a atuar, mesmo depois de terem passado pelas dependências do aparelho repressivo. “Eles esperavam que a gente se comportasse. Mas quando houve a greve em 1979, eu estava no comando de greve. E eles monitorando. No meu habeas data há registro de que eu continuei sendo vigiada, tem registro da minha participação em reuniões, no CONCLAT, informações de que eu distribuía panfletos para a eleição direta pra o DCE da UFF”, relata. Fernanda conta que o aparato da ditadura tinha informações sobre um grande número de pessoas consideradas subversivas. “Qualquer pessoa podia ser vigiada, não precisava ser dirigente de nenhum grupo. Eles sempre diziam que os presos eram guerrilheiros, assaltantes de banco, mas nem todos eram”, lembra a ex-sindicalista.
O monitoramento de militantes se estendeu por vários anos, como mostram documentos oficiais obtidos após a redemocratização. “O fato de a gente não desistir deve irritar muito a direita. Se eles vão para as montanhas fazer guerrilha, eu não sei. Mas nós não vamos desistir, estamos aqui”, conclui.
Os mais perseguidos
Ciro Garcia presidiu o sindicato de 1988 a 1991, pós-ditadura, mas sua militância começou na década de 70 e ele chegou a ser preso, inclusive em razão de sua atuação sindical. Mesmo com uma longa história como militante, sua entrada na categoria se deu por outro motivo. “Eu era bancário para tratar dos dentes”, lembra.
Seu primeiro emprego bancário foi em 1973, no banco União Comercial, comprado pelo Itaú no ano seguinte. Em 1974 Ciro entrou para a faculdade de Direito da UFRJ, onde já começou a militar. “Reabrimos o Caco – Centro Acadêmico Cândido de Oliveira – e editamos um jornal, o Brecha”, recorda Ciro. Mas sua atuação política mais intensa começou na mesma época em que entrou para o Banco do Brasil, em 1976. “Como o salário era melhor, fui estudar Inglês e Francês. Mas foi também nesta época que comecei a frequentar reuniões, conheci o pessoal da Liga Operária”, recorda. Quando o grupo do MEP foi preso no Rio de Janeiro, Ciro estava em Minas Gerais. Assim que soube das prisões, voltou para o Rio.
Quando aconteceu a greve dos bancários do Rio em 1979, Ciro já era próximo da direção do sindicato – integrou uma das chapas de oposição na eleição para a diretoria da entidade que ocorreu naquele ano, meses antes. “Em 1979 houve muitas greves pelo país, até greve de coveiros”, lembra o ex-presidente, ressaltando que a política econômica do regime militar já prejudicava a renda das famílias e levava os trabalhadores a se organizarem. “Naquele período, fomos levados para prestar depoimento eu, a Fernanda, o Percinoto, o Ivan, e outros sindicalistas. Para que pudéssemos ir à assembleia, tivemos que ser acompanhados por parlamentares”, relata.
Mas esta prisão foi somente para prestar depoimento sobre a greve que estava sendo organizada. Em outra ocasião, já em 1980, Ciro foi preso dentro de um ônibus, quando estava em companhia do amigo metalúrgico Luiz Carlos Prates, o Mancha. “Éramos os únicos negros no ônibus. Claro que fomos abordados. E os policiais encontraram o material da Convergência Socialista que estava com a gente. Fomos presos”, relatou Ciro. O ativista lembra que, já na delegacia, um policial perguntou se eles eram “destes comunistas que infectam nossa pátria”. E lembra também que, mesmo já sendo o final da ditadura, houve atentados, como o que aconteceu na sede da CS.
Ciro também mostrou seu habeas data, que inclui um registro de 1988. “Já estávamos na fase da democracia burguesa, mas continuávamos sendo vigiados”, ressalta.
Como integrante da Comissão Estadual da Verdade, representando a central sindical CSP-Conlutas, Ciro ressalta que o trabalho da CEV está mudando a visão que se tinha sobre a atuação dos militares durante a ditadura. “Pensava-se que os mais perseguidos foram a classe média, os estudantes e os intelectuais. Mas não, fomos nós, da classe trabalhadora, os maiores perseguidos. Fica claro quem são nossos inimigos de classe”, avalia.
Ciro também considera que a democracia ainda não é plena. “Enquanto houver torturador dizendo que não tem drama de consciência e ocupando cargos nos governos, a luta não acabou. Temos que rever a lei de anistia e apurar com rigor as torturas, punir os torturadores”, defende.
Fonte: Da Redação – Fetraf-RJ/ES